A última tragédia – Abdulai Sila
- Júlio Moredo

- 13 de nov. de 2021
- 7 min de leitura
Atualizado: 19 de nov. de 2021
Viagem à sofrida Guiné-Bissau e aula de sociologia política anti-colonialista e racista

Obra maior do escritor, engenheiro e pesquisador bissau-guineense Abdulai Sila, A última tragédia é um ode em reprovação ao colonialismo exploratório, voraz e, no caso de uma antiga colônia portuguesa, como era a Guiné-Bissau, tacanha, atrasada, ignorante, parasitária e predatória acima da média.
A trama se passa no pós-guerra, entre os anos 50 e 60 do século XX, em que o mundo atravessava alterações e transformações gigantescas políticas, sociais e econômicas, com destaque para a Guerra Fria, a divisão global entre OTAN e Pacto de Varsóvia e conflitos locais de independência patrocinado por EUA ou URSS, causando um verdadeiro racha na forma de se pensar o planeta, gerando o pós-modernismo, a contracultura, a anti-arte, a revolução hippie e tantos outros movimentos de confronto aos sistemas propostos pelas potências.
Num território ultramarino de um Portugal salazarista, fechado em si mesmo e completamente avesso a ideais estrangeiros, contudo, isso pouco importava e a vida de seus cidadãos, brancos ou negros seguia uma toada distinta do restante da própria África. É neste contexto histórico que o narrador onisciente nos introduz Ndani, a protagonista, uma mocinha ingênua, determinada e sem perspectivas de futuro em sua aldeia natal, Biombo, para a capital da província, Bissau, em busca de uma nova vida material e imaterial, já que era rejeitada não só pelo machismo patente em sua cultura como também por ser considerada uma portadora de azar e mau agouro aos que a circundam, seguindo as crendices espirituais e religiosas de sua etnia.
“Toda a gente acredita numa profecia de um maldito Djambakus que afirmara ser ela portadora de um mau espírito, da alma de um defunto mau, e lhe vaticinara consequentemente uma existência turbulenta, uma vida de desgraça, de tragédias até ao fim... E lembrava-se de que desde aquele dia perdera o sossego em Biombo, que tudo quanto acontecia com ela, mesmo as coisas mais simples —uma queda, um falecimento uma febre passageira —, era objecto de muita especulaçãoà volta de sua vida, era quase sempre interpretado como o presságio de uma tragédia que se avizinhava. Mesmo a sua mãe dava ultimamente sinais de acreditar na história, embora pretendesse fazer-lhe crer o contrário.” (p.27)
Por esta razão, e encontrando apoio para aconselhamento apenas em sua quarta madrasta (seu pai tinha quatro esposas), justamente a mais nova dentre elas, parte ela para a praça principal da colônia na tentativa de arranjar emprego na casa de algum comerciante branco que a aloje, vista, alimente e dê guarida como criada de família e ama-seca. É desta forma que a encontramos nas descrições diretas mas profundas de Sila, à beira de um palacete de uma família de portugueses à procura de trabalho utilizando as parcas palavras que conhecida, também pela madrasta, da língua do opressor: “Sinhora quer criado?”.
“No fundo, toda a gente devia ter recebido com alegria a notícia de sua partida. Todos, excepto a madrasta mais nova, talvez a única pessoa na sua tabanca que a encarava e tratava como uma rapariga normal. Os restantes, bem ou mal, arranjavam sempre um pretexto para evitar a sua companhia. À medida que crescia, mais sentia o peso dessa rejeição, mais insuportável se tornava a discriminação. Foi por isso que quando a madrasta lhe falou do outro mundo que havia neste mundo, não hesitou em sair à sua descoberta.”
O modo como a cena primeira se desenrola, com a humilhação pública da faminta e perdida Ndani por Dona Maria Deolinda Leitão, sua futura patroa, já condói o leitor de maneira visceral e nos prepara para os sofrimentos anímicos que a esperam durante sua estada como copeira da casa, já que, graças à intercedência de José Leitão, o marido, carreirista formado em Lisboa e proveniente, como a esposa, do Alentejo.
Ela logra ocupar o posto de empregada doméstica não sem antes sofrer de náuseas após comer a rala sopa que lhe deram após ter sido propositalmente molhada e enxotada por Linda horas antes. É o mote para um leitor já experimentado e, tenho certeza, já cativado por personagens e enredo, para imaginar o quanto das relações raciais serão explorados neste contraste de mundos que viverá a menina.
“Seria essa a diferença a que se referia a sua madrasta? Pensava que ela falava de diferença no sentido de maior conforto, de bem-estar, de alegria, de beleza. Ela falara de coisas maravilhosas mas até agora só descobrira crueldade. Mas... seria crueldade mesmo? Ou seria antes desprezo pelo preto? Se tivessem encontrado uma menina branca com fome e sede, tê-la-iam também abandonado? Mas que parvoíce! Rapariga filho de branco a pedir trabalho na rua, isso é impossível (...) (P.29)
Nos parágrafos seguintes se apercebe o leitor de que Maria Daniela (o nome lusitanizado de Ndani, já que Dona Linda o confundiu com um som levemente russo, comunista) é apenas uma adolescente frágil e em busca de um lugar a um raio de sol de seu existir fadado ao ódio pelos seus entes. Tem ela quinze anos após dois passados ao serviço da família que tem, além de Linda, Zé Leitão, o chefe, e os filhos João, estudante de direito em Portugal, e Mariazinha, graduanda em medicina. Os contrastes que Ndani enxerga por lá não param por aí e fazem-nos refletir sobre nossa própria cultura ocidental: Por que poucos filhos? Por que tanta sanha de se saber a idade das pessoas, o dia, a hora, o mês de seu nascimento? E por aí vai.
Sila vai deixando implícito o nível de semi-escravagismo e hipocrisia ao qual as mulheres negras criadas de famílias europeias vão passando ao longo de sua convivência com as patroas. Todas elas batizam-nas com nomes lusitanos, todos eles começados com “Maria” (mulher) antes do segundo nome, todas exigem catecismo, cabelos lisos, rosários, crucifixos e missas diárias ou semanais delas, que vão aos poucos esquecendo seus deuses, raízes, culturas ancestrais de produção alimentícia ou de divertimento tribal, tudo a troco de viverem com o maior conforto que a esmola da labuta as proporciona. Ndani, inclusive, é a segunda melhor aluna do capelão, atrás de Maria Clara, criada de outra moça da alta sociedade a quem Dona Linda deseja muito suplantar através de sua empregada e pupila. Tudo é antropológico, todos são objetos de experimentos sociais e econômicos nas mãos dos colonizadores.
Sem leitor estar preparado ou qualquer aviso, há uma mudança brusca na narrativa, tanto de cenário como de personagens centrais: a trama muda-se de Bissau para Quinhamel, vila do norte guineense, passando a retratar os desentendimentos do Régulo local, Bsum Nanki, com o administrador colonial, alguém que o insultou e pouco fez de sua importância política para os indígenas da zona. Buscando vingança, ele costura alianças com Barbosa, um português já aclimatado aos costumes, gostos e hábitos dos negros, para conseguir apoio político para uma revanche no covarde Chefe, o representante da metrópole lusitana.
Desta forma, após muitas páginas de esforço e esperança de que a trama se volte à Ndani-Daniela ou ao menos com ela se entrelace, o leitor é premiado pelo narrador com este encadeamento faltante (com muita prosa de atraso, é bom que seja dito), já que o Régulo conhece Maria Deolinda e ouve falar de sua criada de Biombo, virgem, prendada, educada à europeia e muito estudada na fé cristã, que se espalha por Quinhamel por intermédio de uma escola em que Bsum, Deolinda e Barbosa logram erguer e inaugurar com toda a pompa e circunstância no lugarejo. É aí que o poderoso líder da localidade decide colocar Ndani como sua sexta e mais jovem esposa.
A intenção, por óbvio, é demonstrar mais uma vez a contrastante visão de mundo de brancos e negros e seus choques, sejam eles pacíficos ou belicosos, já que o Régulo é dos mais complexos personagens do enredo, refletindo as diferenças dos pensares africanos e ocidentais na questão da manipulação, jogo político e coesão étnica e racial. Ele, por isso, vê o contexto em que se insere sua vila como uma oportunidade para mudar a mentalidade dos oprimidos em relação aos opressores, ensinando-os a pensar em conjunto, entendendo as fraquezas e fortalezas de seus opressores e dominadores, os brancos.
“Isso de luta entre raças sempre foi assim, é como luta de cachorros: agora um está embaixo, o outro em cima; depois o que estava embaixo vai para cima e o outro para baixo. O branco veio, tem que ir um dia. Ainda há de aparecer um preto com coragem para pensar nisso. Um preto que vai descobrir todos os pontos fracos e pontos fortes do branco para depois combate-lo. Alguém já disse que quando uma pessoa consegue descobrir as fraquezas do inimigo pode vencer, mesmo se for mais fraco. O branco tem que ir, mesmo que alguém tenha que os pôr no lampram (atira-pedras) um a um. Depois disso, tem que acabar com polícia, com guardas, com cipaios, tudo isso. O professor e a sua escola é que vai ter força. Até porque devia então sair uma lei: toda a gente tem que pensar. (...) (Reflexão do narrador sobre os pensamentos de Bsum)
Para este instrumento de revolução social ficar completo, vai então o Régulo de Quinhamel utilizar-se do patriotismo português de Dona Deolinda contra ela própria, a começar por arrebatar-lhe a valiosa criada como esposa, a própria Ndani, que, junto a ele e ao sofrido Professor local, alguém que perdeu seu pai por uma injustiça jurídica colonialista, irão instigar uma nova forma de se pensar o chão, os costumes e a coletividade bissau-guineense a fim de promover uma futura independência, sem esquecer porém da grande quantidade de maus presságios existentes no destino da protagonista, combatendo-os ao descobrirem o amor nas palavras cristãs, tão mal interpretadas pelos brancos e usadas de modo errático pelos negros e suas crendices.
O combate às injustiças raciais torna o romance cada vez mais envolvente daí para o seu desfecho terrificante, onde a paz que um homem de bem (o Professor) deseja à sua família é sobreposta pelos maus tratos dos brancos, muitas vezes apoiados por serventes negros e combatidos, paradoxalmente, por alguns brancos corajosos e de valor, o que torna esta experiência literária única para se conhecer uma África igual a todas as Áfricas, mas, acima de tudo, uma África que fala a nossa língua.
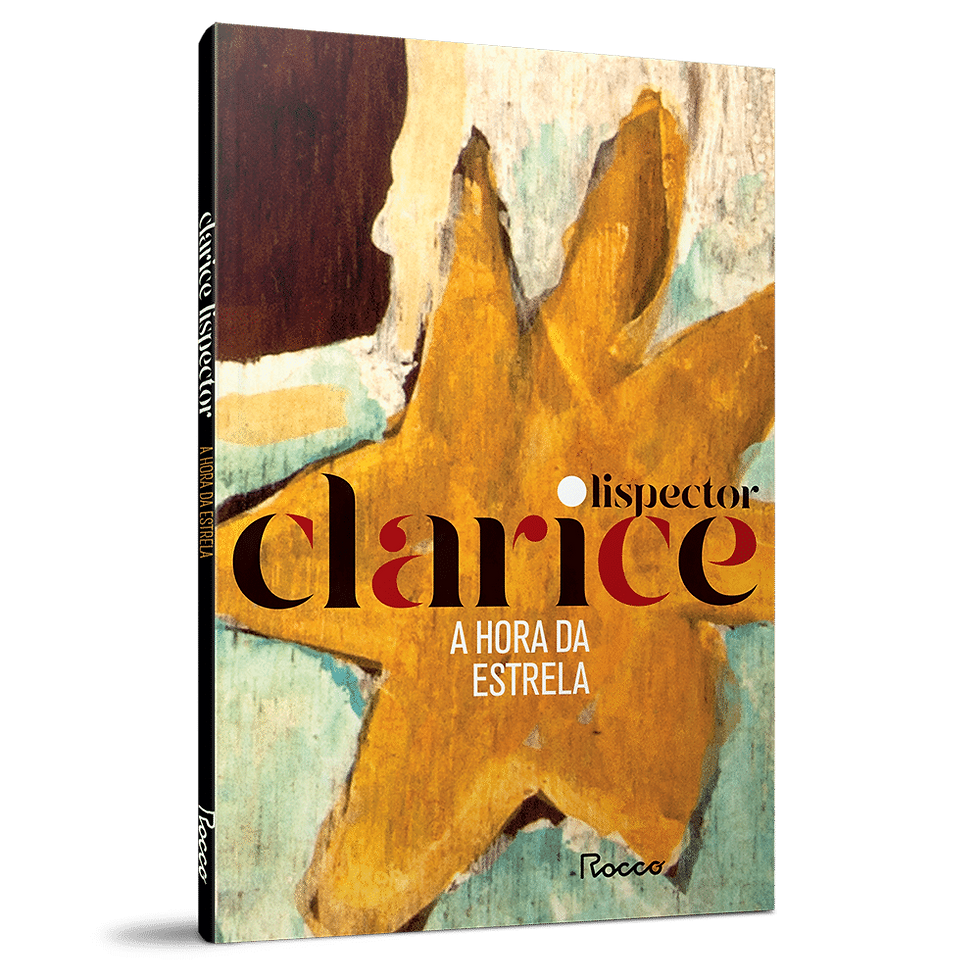
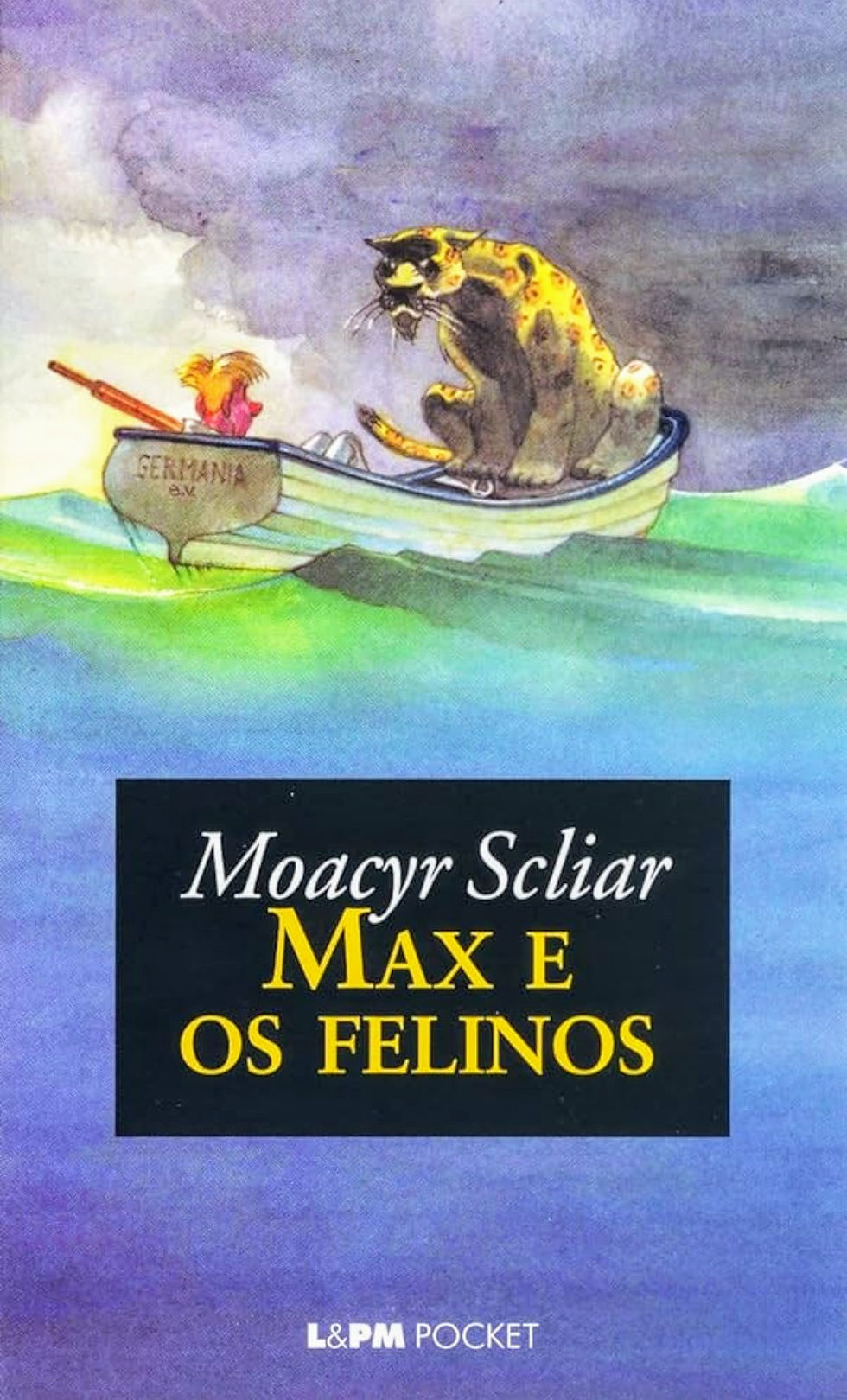


Comments